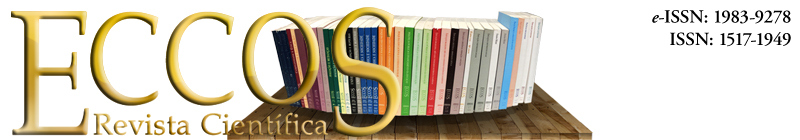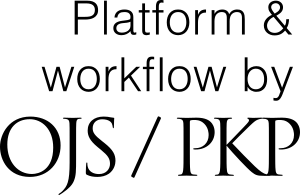Os usos do funk na educação antirracista: pensando o poder da música
DOI:
https://doi.org/10.5585/eccos.n61.21819Palavras-chave:
antirracismo, cultura, educação, identidade, música.Resumo
Este artigo apresenta reflexões sobre os usos da música do baile funk na educação e na ação social, especialmente na educação antirracista. Será considerado o poder da música através de fundamentação teórica-metodológica com referenciais da educação antirracista (GILBORN, 2007; GILROY, 2001; GOMES, N. 2017) e do campo das Ciências Sociais (DENORA, 2003; HENNION, 2001; PRIOR, 2011). Utilizaremos também ferramentas oriundas da análise crítica do discurso, de Van Dijk (2001). A análise efetuada abre espaço para que seja possível pensar o funk não apenas na educação, mas também na luta antirracista, onde se faz necessário refletir melhor sobre as noções de cultura e identidade a partir de uma perspectiva crítica. Como estes termos são frequentemente mobilizados no pensamento sobre a música, este enfoque crítico é crucial para compreender como a música do baile funk pode ser parte de uma educação antirracista. A proposta parte de uma análise da música em ação. Será considerado também como a prática da educação antirracista ainda encontra resistências, disputas e ambiguidades em sua construção.
Downloads
Referências
ALMEIDA, S. L. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Polém, 2019.
ALVES, J. A. Topografia da violência: Necropoder e Governamentalidade Espacial em São Paulo. Revista do Departamento de Geografia, São Paulo, v. 22, p. 108-134, 2011.
BENZECRY, C. The Opera Fanatic: Ethnography of an Obsession. Chicago: Chicago University Press, 2011.
BOURDIEU, P. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Tase. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 2010.
BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Conselho Pleno. Parecer CNE/CP 003/2004. Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2004.
BRASIL. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Brasília, DF,2003.
BRILHANTE, A.V. M. et al. Cultura do estupro e violência ostentação: uma análise a partir da artefactualidade do funk. Interface, Botucatu, vol.23, e170621, 2019.
CARDOSO, A. Uma vida de Música. 2010. Disponível em: https://musica.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=172:uma-vida-demusica&catid=72:internet&Itemid=186. Acesso em: 9 de fev. 2022.
CARONE, I.; BENTO, M. A. S. (Orgs.). Psicologia social do racismo. Petrópolis: Vozes, Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
CURRICULO DIGITAL DA CIDADE DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria pedagógica. Currículo da cidade: Educação Infantil. – São Paulo: SME / COPED, 2019.
CURRÍCULO DIGITAL DA CIDADE DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Educação. Coordenadoria pedagógica. Currículo da cidade: Ensino Fundamental: componente curricular: Arte. –2. ed. – São Paulo: SME / COPED, 2019.
DAYRELL, J. O rap e o funk na socialização da juventude. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 28, n. 1, p. 117-136, 2002.
DENORA, T. Health and Music in Everyday Life: A Theory of Practice. Psyke & Logo, [S.I], v. 28, n. 1, p. 271-287, 2007.
DENORA, T. After Adorno: Rethinking Music Sociology. Cambridge: Cambridge Press,2003.
DENORA, T. Music as a technology of the self. Poetics, [S.I], v. 27, n. 1, p. 31–56, 1999.
FERRAZ BITENCOURT, B. Ocupar e resistir: a ressignificação do funk na luta dos estudantes. Cadernos de Letras da UFF, Niterói, v. 27, n. 54, p. 261-272, 2017.
FERREIRA, A. J. Educação antirracista e práticas em sala de aula: uma questão de formação de professores. Revista De Educação Pública, Cuiaba, v.46, n.2, p. 275-288, 2012.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
GANDHI, L. Affective Communities: Anticolonial Thought, Fin-de-Siècle Radicalism, and the Politics of Friendship. Durham: Duke University Press, 2006.
GIANELLI, A.M. A Disciplina Análise Musical em Instituições de Ensino Superior da Cidade de São Paulo. 2012. 103 f. Dissertação (Mestrado em Música) - Instituto de Artes, Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2012.
GIDDENS, A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford: Stanford University Press, 1991.
GILBORN, D. Critical Race Theory and Education: Racism and anti-racism in educational theory and praxis. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education [S.I], v. 27, n. 1, p. 11–32, 2007.
GILROY, P. Atlântico Negro: Modernidade e Dupla Consciência. São Paulo: Editora 34,2001.
GOMES, I.V. Negro Drama: Narrativas estudantis negras, Educação Física escolar e educação étnico-racial. 2019. 192 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Educação e Docência) – Faculdade de Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.
GOMES, N. L. O movimento negro educador- Saberes construídos na luta por emancipação. Petrópolis, RJ: vozes, 2017.
HENNION, A. Music Lovers: Taste as Performance. Theory, Culture & Society, [S.I] v. 18, n. 5, p. 1-22, 1 out. 2001.
HERSCHMANN, M. O funk e o hip-hop invadem a cena. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2005.
HOCHSCHILD, A. The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press, 1983.
KACZMAREC, D; BURAK. Modelagem matemática na educação básica: a primeira experiência vivenciada. ACTIO, Curitiba, v. 3, n. 3, p. 253-270, 2018.
MENDONÇA, P.; ROCCA, R.; MANO TEKO, M. O funk e a educação: etnomusicologia e pesquisa-ação participativa em contextos diversos. DEBATES - Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Música, [S. l.], n. 19, p.191-207, 2017.
MUNIZ, B.B. Quem precisa de cultura? O Capital existencial do funk e a conveniência da cultura. Sociologia & Antropologia [online], Rio de Janeiro, v. 6, n. 2, p. 447-467, 2016.
NOVAES, D. Funk Proibidão: Música e Poder nas Favelas Cariocas. 2016.140 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.
OLIVEIRA, W. "Abram os portões do vale: eu vou entrar": Funk LGBTTQIA+, currículos escolares, estéticas e educação musical. Revista Rascunhos - Caminhos da Pesquisa em Artes Cênicas, [S. l.], v. 5, n. 2, 2018.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Resolução 68/237/. Disponível em: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2015/07/N1362881_pt-br.pdf. Acesso em: 9 fev.2022.
PRIOR, N. Critique and Renewal in the Sociology of Music: Bourdieu and Beyond. Cultural Sociology, [S.I], v. 5, n. 1, p. 121–138, 2011.
RAMOS, A. G. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,1957.
ROCHA, C. Popular e perseguido, funk se transformou no som que faz o Brasil dançar. 2017. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2017/10/22/Popular-e-perseguidofunk-se-transformou-no-som-que-faz-o-Brasil-dan%C3%A7ar. Acesso em 12 jan.2022.
SETTON, M.G. J. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, n. 20, p. 60-70, 2002.
SILVA, L.S. Agora abaixe o som: UPPS, ordem e música na cidade do Rio de Janeiro. Caderno CRH, Salvador, v. 27, n. 70, p. 165-179, 2014.
SILVA, M.AB. Educação antirracista no contexto político e acadêmico: tensões e deslocamentos. Educação e Pesquisa [online], São Paulo, v. 47, e226218, 2021.
SILVA, P. V. B. et al. A proposta e seus objetivos. In: SILVA, P. V. B.; REGIS; K; MIRANDA, S.A. (Orgs). Educação das relações étnico-raciais: o estado da arte. Curitiba: NEAB-UFPR e ABPN, 2018. p. 21-32.
SOEIRO JÚNIOR, E. M. Funk na escola: tensões entre arte e ensino na EEMTI Senador Fernandes Távora. 2021. 92f. TCC (Graduação em Dança-Licenciatura) –Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.
TEIXEIRA, J. C. A narrativa da montagem do funk carioca no cotidiano escolar. Educação & Sociedade, Campinas, v. 36, n. 131, p. 517-532, 2015.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Disponível em: https://ufrj.br/. Acesso em: 23 jan. 2022.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. ESCOLA DE MÚSICA. Disponível em: https://musica.ufrj.br/. Acesso em: 13 jan.2022.
VAN DIJK, T. Critical discourse analysis. In: TANNEN, Deborah et al. The handbook of discourse analysis: London: Wiley Blackwell, 2001. p. 352-371.
VENTURINI, A. C. Ação afirmativa em programas de pós-graduação no Brasil: padrões de mudança institucional. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 55, n. 6, p.1250-1270, 2021.
ZEPEDA, V. FAPERJ apóia expansão de projeto que mapeia a memória musical da Maré, 2005. Disponível em: https://siteantigo.faperj.br/?id=508.3.9. Acesso em: 14 mar.2022.
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2022 EccoS – Revista Científica

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
- Resumo 1097
- PDF 928